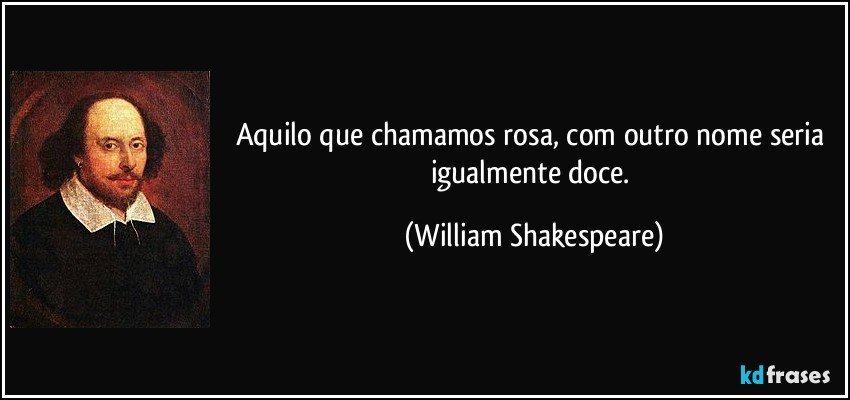A POSSESSÃO DO PENSAMENTO
EM IGOR FAGUNDES:
ENTREVISTA COM O TEÓRICO-POETA
DAS ENCRUZILHADAS
![]()
Com lançamento marcado no Rio de Janeiro para 20 de julho de 2016, no Centro Cultural Justiça Federal, e relançamento em São Paulo dia 27 de julho, na Casa Guilherme de Almeida, o livro Poética na incorporação – Maria Bethânia, José Inácio Vieira de Melo e o Ocidente na encruzilhada de Exu(Editora Penalux, 2016) é o oitavo de Igor Fagundes – poeta, crítico e ensaísta carioca, professor de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o curso de Bacharelado em Teoria da Dança. Fruto de sua tese de Doutorado em Poética na UFRJ, a obra confunde os gêneros ensaístico, narrativo e dramático, misturando música, poesia, filosofia, biografia, ficção e mito para desconstruir os esquemas ocidentais de compreensão do sagrado, os quais resistem, de acordo com o autor, mesmo nos cultos afro-brasileiros. Igor Fagundes mostra que a Umbanda e o Candomblé, para ficar em dois exemplos, vêm marcados pela tradição metafísica, de fundo platônico-aristotélica, na experiência e pensamento dos mitos de matriz africana no Brasil. Para abordar de modo não viciado o fenômeno da incorporação, Igor Fagundes vai ao pensamento grego para desmontar os paradigmas que condicionaram as interpretações cristalizadas do Ocidente, de maneira que mesmo Cristo ganhe nova leitura, liberta do Cristianismo. Redimensionando as questões de deus, diabo, espírito, matéria, tempo, espaço, orixá, identidade, diferença, linguagem e poesia, o livro parte da obra do poeta José Inácio Vieira de Melo, cujo sertão – tornado aí espelho do terreiro – aparecerá tomado miticamente pelas águas que Maria Bethânia canta em dois álbuns de música: Mar deSophia e Pirata, de 2006. Na encruzilhada de José Inácio Vieira de Melo e Maria Bethânia, não apenas o sertão e as águas se encontram, mas sobretudo mitos, deuses, poetas e poéticas de línguas diversas se enredam no silêncio da linguagem: Sophia de Melo Breyner Andresen, Guimarães Rosa, Drummond, Fernando Pessoa, Tom Jobim, Dorival Caymmi, João Cabral de Melo Neto, Antonio Vieira, Homero, entre santos católicos, centauros, musas, erês, exus e orixás.
![]()
Em entrevista a Leonardo Davino, professor de Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e a Antônio Máximo Ferraz, professor de Teoria Literária da Universidade Federal do Pará (UFPA), Igor Fagundes fala sobre as dimensões poéticas e políticas de seu pensamento em torno da arte e do sagrado:
LEONARDO DAVINO– Igor, você me ouve? Antes das perguntas, agradeço e abraço. Agradeço pela tese, por eu ter ouvido a defesa da tese, por ela ter encorajado as formas e os sentidos que dei à minha tese. Abraço por devolver a ciência à poesia. E por sanar minhas dúvidas: é possível teorizar poeticamente? É possível transgredir epistemologias, antropologias, teologias em um contexto reacionário, tal como o da academia e também o do país? Abraço por também ser Ulisses na vida, meu irmão na terra-mar. Um“ulissessereia” na incorporação, quando já ouvidor, ouvindo, de tal maneira perfazendo uma audição, desaprendendo: atrevendo-se a uma raspagem.
IGOR FAGUNDES– Obrigado, Leonardo. Fico sinceramente comovido ao saber que o encorajei a manifestar, na academia, as suas próprias forças. A tese é a hora em que cada um deve conquistar e mostrar um dizer próprio. Todos nós somos uma procura concreta e diuturna pela nossa tese, voz: pelo nosso incorporado. Aí não me refiro à tricotomia proposicional e epistêmica “tese-antítese-síntese”, mas ao sentido mesmo dialético e dialogal em que sempre somos e não somos. Tese aí é tudo o que, incorporando, juntando-se e concentrando-se em nós, crescendo e intensificando-se, nos diz sempre como um entre-ser: encruzilhada. Um mundo! E o que diz respeito ao mundo de cada um, não cabe em fôrmas, nas fórmulas pelas quais a academia idealiza o que venha a ser a diferença e o que venha ser o pensamento (ainda que Platão, o fundador da Academia como o lugar da ideia, de uma suposta idealização da existência, tenha curiosamente pensado poeticamente e ao modo do diálogo, de um teatro do questionamento). Não à toa, o último do capítulo de meu livro, ou não capítulo, porque o texto é não linear, é um labirinto, constitui um diálogo socrático, uma consulta no terreiro com o saber e não saber de Pombagira. Um diálogo na verdade dionisíaco por tratar-se de uma dramaturgia em que o questionar culmina embriagante.
LEONARDO DAVINO - Você escreve: “O milagre da possessão: possuir o que me possui, vir a ser o que já sou”. Quanto de acaso e quanto de destino há nesse movimento em direção ao janeiro do rio encruzilhante (entre Maria e José)?
IGOR FAGUNDES - Em um terreiro de Umbanda, recebi de um erê a notícia de que Oxum me guardava um presente, uma missão: um livro a escrever a unidade das experiências aparentemente estanques em minha vida: poesia, música, teatro, dança, mito, religião, filosofia, pensamento?!... Devemos lembrar que o erê é a criança, a revelação plena e primigênia do sagrado, dos orixás. Na medida em que “errância” nomeia o desvelo contínuo do errar, e “andança”, o continuum do andar, “criança” é a instância e estância da criação, em que devemos sempre nos manter para encontrarmos, em tal momento extra-ordinário, a infância da existência agora-aqui, como nosso acontecimento criativo, poético, divino. Mas o que nomeio aí divino? Um ente, uma substância original, um sujeito fundamental? De que maneira o divino e a poesia se referem mutuamente? Destino tem mesmo que compreender uma prescrição existencial? E, se falamos em poesia, podemos supor prescrições?
Há certa tendência acadêmica, digamos, “pós-moderna” (apesar do sucesso desse termo, já defasado por outro, o “pós-pós-moderno”, prefiro me entender como pré-antigo, isto é, fora de toda progressiva cronologia), de negar os conceitos totalizantes que se fizeram dominantes no Ocidente: essência, identidade, destino... Numa espécie de revanche conceitual, passa-se a dar adeus às essências: tudo é aparência, simulacro, existência. No lugar da identidade, o elogio da diferença, da contingência. Dogmático e anacrônico é o intelectual que porventura insista em palavras como “destino”: o humano é construção histórica, (des)construção ilógica. Não há lógica, viva o acaso!
Os conceitos são mesmo ultrapassáveis, mas as questões permanecem. As conceituações de essência, de identidade e de destino que tentaram dar conta das questões que estas palavras nomeiam, anulando outras (como existência, liberdade, diferença, história), são de fato problemáticas. Mas, em cada palavra, o que está em coisa, em cousa, em causa, em questão, é uma saudação do humano a um gesto da vida sobre ele. Em cada palavra é uma questão o que se cumpre e se cumprimenta, o que se mostra e se salvaguarda, e não um conceito: daí, o silêncio de todas as palavras como o silêncio de que todas as coisas participam. A palavra cumpre/cumprimenta as coisas quando, retirando-se enquanto as evoca, deixa vazar e cumprir-se o em-aberto, a própria retirada delas. A palavra apanhaa coisa justamente por e para deixá-la propriamente escapar no seu fugidio acontecimento. Toda palavra é um deixar-se apanhar pelo entre (ser e não ser) das coisas. O novo das questões, das palavras, é tal abertura, tal escape que ao revés nos captura: não equivale à novidade de um conceito, que nasce para tornar-se velho, ultrapassado, a mercê de alguma moda. E a academia adora modas!
Destino virou sinônimo de predestinação, mas destinar não se reduz a pré-destinar. O verbo aí “destinar” já nem se pensa mais, porque, com a inserção do prefixo, só se afirma e só se nega alguma previsto sujeito, agente, fundamento, causa: o gene da ciência, o Deus da religião... Quando, negando o destino, passamos a elogiar o acaso, queremos dizer que os acontecimentos não têm razão, significado, lei. Mas isso é diferente de dizer que não têm sentido. Para afirmarmos que não possuem razão, já terão feito sentido. Este se tornou tardiamente sinônimo de significado, de significação, de ressignificação e, no entanto, sentido não só é anterior a significado, como a condição da própria possibilidade de significar e de ver tudo como significante.
Não possuir um fundamento, significado, é diferente de não possuir motivo, motivação – palavra irmã de emotividade, emoção, comoção, movimento, corpo, presença. Alberto Caeiro escreve: “As coisas não têm significação, têm existência”. Ter sentido é ter presença, força, peso, gravidade em nós, ainda que para revelar a todo tempo uma ausência e, por isso, persistir questão; ainda que seja, então, o silêncio, a ausência, o que na verdade pesa sobre a gente! “Leonardo”, por exemplo, é isto que já precisa ser, fazer sentido, fazer-se presente, até para eu poder, no flagrante de seu retraimento, escape, perguntar “O que é Leonardo?” e compreendê-lo questão porque nunca está dado, terminado e, sim, por dar-se, por principiar sempre no ainda-não e no já-não-mais – tudo isso que o põe na fuga aos significados, conceitos, prescrições.
Você me pergunta o que há de destino e de acaso na encruzilhada! Encontramos a questão do destino nisto que já se pôs no caminho, a caminho, diante de nós, em nós, como sentido-e-silêncio, presença-e-ausente, até para exercemos a possibilidade de escolher, de perguntar, de responder e de dizer que isto não tem qualquer razão, prescrição e, assim, é por acaso! Não somos nós que escolhemos escolher: ser livre já é o nosso destino! Daí, a encruzilhada, lembrando a angústia em Kierkegaard, a dizer “a realidade da liberdade como possibilidade para possibilidade”.
A “morte de Deus” na modernidade antropocêntrica incitou o sujeito humano a crer-se senhor definitivo do real, mediante o livre-arbítrio como superação de todo fatalismo, determinismo. Mas destinar é o encaminhar-se de alguma possibilidade de ser, no sentido de justamente o homem ser possibilidade. Não é o que está previamente escrito, mas o que já recebemos, já somos, sem termos deliberado. Liberdade requer o encontro com o que nos encontra. A escuta de um já incorporado, um já encruzilhado.
Oxum não fez nenhuma prescrição; por isso, suas palavras, como questões, permanecem constituindo o enigma da procura pelo sentido, ou seja, pelo que é e age em mim, esperando tão-só por atenção, diálogo, enfim, pela hora da plena manifestação. Da libertação das possibilidades de ser que incorporo e, consequentemente, sou. Não necessariamente tenho de prever algo ou alguém causandoa possibilidade. Concreta mesmo é a possibilidade que se deu, se dá e que está se dando. Fundamentos – quem ou o quê dá, o porquê e para quê dá – são crenças ou tentativas de capturar, pela lógica, tal gratuidade. Tanto o discurso de que Deus está no comando quanto o de que o Eu está no comando são coisas de crentes. O homem precisa ser muito crente na subjetividade, apostar muito nas razões, nas representações e na consciência como sua religião para prever piamente que a existência está sob seu controle. O vale-tudo do eu sem limite joga o mesmo jogo de onipotência do Deus metafísico.
Em um mês de janeiro, ouvi pela primeira vez o álbum de música Mar de Sophia e imediatamente me veio todo um projeto de pesquisa de doutorado. Maria Bethânia abria este CD com a faixa “Canto de Oxum”. Ela era a Oxum se fazendo presente, entregando-me – em seu espelho – o meu presente. Uma das provocações de meu livro é pensar a essência do agir, do presente, fora da noção de fundamento – seja genético, seja divino; seja material, seja espiritual; seja objetivo, seja subjetivo. No genético, podemos assumir que o átomo é energeticamente sem fundo. O divino – e, neste sentido, Oxum – também não precisa, como energia, equivaler a um ente fundamental. O material é o materialismo? O espírito é o espiritualismo? É impossível pensar de maneira não viciada o destino sem questionar os mais diversos conceitos, sobretudo o de Deus. Como determinar que destino é determinismo, se Deus – o quê ou o quem determina – não necessariamente é um quê ou um quem?! E, sim, arcaicamente, a própria abertura, a própria indeterminabilidade – os gregos diriam: a própria poesia– que move o real, agindo em nós. Quando digo que Oxum me convocou a um presente, estou necessariamente reduzindo Oxum a um sujeito, a uma substância? Ou, antes, Oxum é um verbo de vida, uma força – uma energia, uma poíesis – na qual vida incorpora e se faz presente? Com a gramática herdeira da Lógica que nos rege, falamos em voz ativa e passiva, sujeito e objeto, causa e efeito. Precisamos pensar o divino, o orixá, o destino, nesta dimensão? Os gregos antigos previam uma voz média, sem agente nem paciente, para dizer o Ser enquanto (o) Nada agindo. O mito iorubá tem de estar predestinado à Lógica? Ao teológico, antropológico, sociológico, epistemológico?
Oxum me pede que a escute, ou seja, que escute em mim o que é vida sendo força de presença, para encontrar – dentre todas – a força mais presente. Escrever?! Divino no corpo é justamente o que o lança na criação: na vida da vida. Não qualquer força, verbo. Mas o afeto que mais nos põe à altura da vida em sua radicalidade criadora. É nesta hora propícia, apropriada, autêntica, que a verdade é corpo. E que a verdade-corpo é um deus.
Ao escutar-me, o que deve ou não se mostrar é a irremediável necessidade de escrever. O que significa que ela, mostrando-se sempre nesse caminho como o que sempre a mim se encaminha, encaminhando-me, coincidirá com o que concretamente sou. Na medida em que demasiadamente acionado, inspirado, feito pelo escrever, será este o meu mais intrometido, mais incorporado verbo. Será escrevendo que tomarei, a cada vez, posse de mim: disso que já se impôs como destino, e não cessa de nele se pôr; de me pôr a caminho dele. Quer dizer: todos nós já somos o que precisamos ser ou tornar-nos.Já somos o que precisamos fazer vir a ser, porque, do contrário, não poderíamos vir a ser isto! Só podemos vir a cumprir o que jáé, ou seja, o que em nós já acenou como possibilidade, sentido: um isto. Em alguma possibilidade, sempre atual, nos detemos. Escrever é o verbo, a força, o presente que preciso já ser para poder precisar vir a escrever! “Vem ser o que tu és” (o que sempre já és!). Quer dizer: Vem te apropriares do que te é próprio! Vem tomar posse do que te possui! Tomar posse de teu presente: ser todo livro!
As obras de Maria Bethânia e José Inácio Vieira de Melo foram duas forças, dois afetos, duas provocações para pensar o destino e o ser-presente como um ser-com. Não dava para medir qual a mais forte, a mais necessária, porque era eu justamente a mistura de ambas, as quais, por sua vez, se entrecruzam com outras e outras. Sequer decidi escrever a partir desses artistas. Eu estava, sim, decidido por este encontro, pela encruzilhada das vozes. Perfazendo-se ao modo do afeto, o humano é este sempre tocado por um verbo de vida (um sentido, uma força) que o atravessa e a partir do qual incorpora.Sobre istoque o afeta e lhe é força, não tem nenhum arbítrio.
LEONARDO DAVINO– Sendo a musa a fonte da mensagem poética, porque guarda o canto absoluto da história a ser transmitido apenas ao poeta, e a sereia a portadora do canto audível para ouvidos humanos, o que é musa e o que já é sereia nesse carrefour de referências, interferências, inferências? Ou seja, é possível e/ou necessário distinguir uma da outra? Ou seja, é tudo entre?
IGOR FAGUNDES– Maria e José (Bethânia e Inácio), com suas poéticas, tornam presentes outras poéticas. Maria e José, presentificando mitos e deuses, acabam se fazendo, em minha poética, mitos, deuses. Tornam presente, enfim, a odisseia do humano em busca de sua casa, de sua diferença na identidade do Ser como a potência desta teia da vida no vazio, no silêncio. Se por “presente da Oxum” eu entendia justamente a minha morada ou pátria ontológica, José Inácio vira nesta saga meu alter-ego: o deslocamento de seus portos seguros para o sertão coincide com o deslocamento de meu Rio de Janeiro para o Janeiro do Rio, para a Fonte do Rio, para o milagre de Oxum, testemunhado no Ser-Tao.
Somos todos Ulisses e precisamos nos perder para nos encontrar. José Inácio, Ulisses no sertão, ouve o canto das sereias, da perdição. Elas são as vozes que põem em delírio e perigo a viagem de cada um por dentro de si. Bethânia, com seus álbuns hídricos, baianos, comparece como sereia de José Inácio – feitiço que o rouba de seus territórios reconhecíveis (a herança ocidental, grega, cristã) para o desconhecido que o extravia das prescrições. Não concernia aos caminhos de José Inácio uma relação mítica com a cultura afro. Mas, no sertão, no Tao do ser, cabe tudo: José Inácio, ao encontrar-se comigo nessa viagem, vê que o milagre da água – a chuva, o rio, o mar feito miragem no sertão – pode ser nomeado Iansã, Oxum, Iemanjá e demais forças que Bethânia canta. As deusas africanas são sereias que desnorteiam o ocidente de Inácio. Mas também o meu. Trata-se, afinal, no livro, da história de um branco, de olhos verdes, descendente de europeu, de repente abismado pelo que há de sagrado e humano nos terreiros.
Enquanto Hermes é o intérprete do mistério, o deus da linguagem entre os gregos, e Jesus é o hermeneuta de Jerusalém, Exu é na cultura iorubá o mito da linguagem manifesta como encruzilhada, diálogo no sertão, com o sertão. A Exu, à palavra que interpreta e presentifica os deuses, José Inácio evoca, mesmo que não se valha do nome. Da mesma maneira que, no terreiro, Pombagira foi o canto da sereia que me pôs perdido para que eu me encontrasse mediante o trânsito, o transe. Desse modo, sereias e pombagiras cantam a qualquer homem em odisseia. Mas, conforme você diz, Leonardo, as musas cantam só ao poeta, ao cantor, ao escolhido para manifestar plenamente a divindade, o extraordinário do que está sendo e se fazendo história. Neste sentido, José Inácio precisa, mais que escutar Exu, deixar-se possuir por ele, para fazer-se um possuído, um vate, um ígneo inspirado, um ignácio incorporado, um poeta: alguém que canta a memória das forças a que pertencem todas as pátrias, culturas, histórias. A que pertencem Drummond, João Cabral, Guimarães Rosa e demais possuídos que aparecem nos CDs e em meu livro.
Diante de José Inácio, Bethânia aparece, então, não só como sereia que fala à sua humanidade. Ela é também a musa que o permite elevar sua existência à arte, à palavra, ao canto da Memória. Todo ser humano é poético, mas nem todo ser humano se apropria do que lhe é próprio, frequentando com a poesia que o frequenta diuturnamente, para colocá-la e colocar-se em obra. Em livro. É neste sentido que Bethânia vira a arte das musas, a música de José Inácio. E a música de mim. Porque é em Bethânia que a busca por minha casa, meu presente, se torna uma obra de arte e pensamento: uma poética. Também fui eu um chamado a ser poeta, um chamado à musa. Bethânia é tanto a sereia que desconstrói as rotas e alarma as procuras quanto a musa que comemora o que se encontra e se proclama como poética. Mas não é só: Maria Bethânia é igualmente uma intérprete dos deuses, uma possuída: precisa deixar-se tomar por Pombagira (Exu feminino) para incorporar a força de Oxum, Iansã e Iemanjá. Nesse horizonte, encruzilhada é sertão. E sertão é terreiro.
![]()
ANTÔNIO MÁXIMO FERRAZ– Igor, tem nome a voz velada que se desvela na sua fala? À falta de um nome, como evocá-la? Ao nomeá-la, ela silencia? Nesse silêncio, o desvelo? Faço-me essas indagações ao ler Poética na incorporação, já entrecruzadas com as palavras do Fernando Pessoa de Mensagem: “Que voz vem no som das ondas / Que não é a voz do mar? / É a voz de alguém que nos fala, / Mas que, se escutamos, cala / Por ter havido escutar”.
IGOR FAGUNDES– É a voz do Ser, Antônio. Mas não do conceito de Ser difundido pelo ocidente. Não de uma ideia de Ser, de um Ser místico, esotérico, sobrenatural, suprassensível... A voz do Ser é a do silêncio agindo agora-aqui, por entre o corpo, no entre do movimento: é a voz do movimento. O real como força manifesta, ou seja, o vidar da vida na e como linguagem. A partir de certa interpretação da obra de Platão, Ser passou a designar um fundamento fora do mundo sensível; uma verdade pura, perfeita, ideal, livre e acima da experiência fugidia, falsa, da carne. Da leitura da filosofia de Aristóteles disseminou-se a prerrogativa lógica do Ser como verdade subjacente, substância, substantivo, sujeito, daí decorrendo não apenas a noção medieval de Deus, mas a noção moderna de subjetividade humana como um euautônomo, capaz de conhecer, julgar e responsabilizar-se por seus atos mediante relações de causa e efeito. Isso condicionou as interpretações bíblicas e, mais tarde, os cultos afro-brasileiros. É preciso rememorar que o ser como ser não é um ente, um fundamento, mas a vida como energia poética, dinâmica abissal. A vida não cessa de se fazer presente. Tal presentificação não se dá sem uma ausência (um “ainda não” e um “já não mais”): tudo o que é ainda não é e já nãoé. Tudo o que énão é. Ser, assim, compreende o vigor do que aparece e ganha delimitação (corpo), desaparecendo, repousando no aberto, no nada, no ilimitado. Escutar a voz do Ser é escutar o que sempre se vela para o desvelo de cada ente, de cada um de nós, que estamos sendo. Enquanto silêncio pulsando, vigorando, Olorum nomeia, na cultura iorubá, o originário de todos os orixás, entidades, sem com isso, ser um ente, um incorporável. Sobre o Ser, sobre Olorum, não há discurso. Não há sequer culto para Olorum. Resta-nos cultuar e cultivar suas muitas revelações: testemunhá-lo no véu das ondas, como o véu dos orixás. Enquanto se ausenta, é a possibilidade mais possível, que tudo possibilita. Porque é a possibilidade das possibilidades, acontece como a mais vigorosa presença e a mais vigorosa ausência. Ocorre que o mito iorubá, ocidentalizado no Brasil, recebe o teísmo (seja ele mono- ou poli-) como condicionante da experiência do sagrado. Neste, não se compreende mais o que, no theos grego, jamais dizia a luz à parte da escuridão, mas o divino como escuridão luminosa, o nada criativo, irradiante. Olorum comparece, em terras brasileiras, ocidentalizadas, como ente-fundamento de todos os orixás. Assim, não só a Umbanda, mas o Candomblé está também sobrecarregado pela metafísica ocidental.
ANTONIO MÁXIMO FERRAZ– Nossa época costuma enxergar a arte, a ciência e a religião como dimensões separadas e até mesmo antagônicas. À arte, competiria o estético, o sensível, o ficcional. À ciência, o conhecimento, o verdadeiro, o real. À religião, a religação espiritual do homem com o fundamento da realidade, com aquela dimensão que a ciência ainda (muitos creem) não pode desvendar (com um maior avanço da ciência – há quem nisso acredite –, o mundo resplandeceria sem mistérios à luz da razão). Em Poética na incorporação, assiste-se à completa subversão desses paradigmas, pois a arte se mostra, a um só tempo, como verdade, conhecimento e o acontecer do sagrado. Esses paradigmas contra os quais você investe, nós o sabemos, legitimam os poderes discursivos dentro das sociedades. Os poderes e deveres são, de alto a baixo, distribuídos em função desses discursos. Os valores são por eles condicionados. É por isso que vejo em sua obra uma dimensão tanto poética quanto política, revolucionária e subversiva, mas em um diverso e muito mais essencial sentido do que o apregoado pelas ideologias. Não se trata apenas de uma subversão do discurso acadêmico. Este é só um lado das coisas (se bem que, para fugir do engessamento do discurso acadêmico, tão tributário de uma cientificidade que não passa de representação de teorias prévias ao manifestar das questões, seria necessário refundar uma linguagem, como você o fez). A maior subversão está, no meu entender, na maneira de pensar a arte, o conhecimento e o sagrado. Desfazem-se as representações do homem investido na condição de sujeito, reduzindo as coisas a objetos, e abre-se uma relação mais essencial dele com o mundo, regida pelo acontecer das questões. Elas convidam o homem a conhecer e a se conhecer como travessia poética, no vigor do sagrado, uma vez que o humano é, delas, doação. As questões nos excedem, não somos nós que as temos, elas nos têm. Somos delas oriundos, por isso não cabem em nossas representações. O fato de jamais se resumirem a uma objetivação representacional é o sentido da sacralidade, que nunca se resume a esta ou aquela religião institucionalizada e é, inclusive, a fonte primeira de toda e qualquer experiência religiosa.
Tendo em vista estas considerações, pergunto-lhe, Igor: em que medida e com que proveito seus escritos, cujo pensamento me parece caminhar pela não-medida de onde provêm todas as possíveis medidas, ofereceriam um caminho de renovação para uma era, como é a nossa, tão dominada pelo poder da tecnociência e pelas religiões institucionalizadas? Você está propondo, ao menos nas dimensões implícitas de seu livro, para quem souber escutá-las, uma revolução? Em caso positivo, de que espécie? Seu discurso é político? Se isto for verdade, o que pretende dizer à pólis, ou fazer que ela escute com a obra que agora publica?
IGOR FAGUNDES– Por força da filosofia que se fez hegemônica, a arte acabou dizendo respeito ao fora-da-realidade, ao mundo da fantasia, a nada que tenha a ver com pensamento, por exemplo, mas com sentimento. A arte, assim, uma dimensão não essencial do humano, mas facultativa e não raro “fabricada” e “consumida” como mero entretenimento cultural ou ornamento estético. Veja-se aí já um certo conceito ou pré-conceito não só de arte, mas de realidade, sem o qual não podemos prever a fantasia ou a irrealidade como o seu contrário. O irreal não é o contrário do real, mas da realização, do fato. Assim posto, o real não se reduz aos fatos, vez que provém e devém da realidade como possibilidade de e para a possibilidade. Veja-se, ainda, também uma pré-posta dicotomia entre pensar e sentir, culturalmente construída por um paradigma metafísico que fundou tanto as religiões quanto as ciências. Veja-se, inclusive, a arte dessacralizada no chamado “pós-modernismo” ou mesmo no “contemporâneo”, que não raro acabam tornando o profano como o seu próprio e novo Deus, reiterando a oposição “sagrado x profano” (na verdade, inexistente, porque o verbo “profanar” – antes de ardilosamente aproximado do sacrílego, do pecaminoso – nomeia o estar em nome dos deuses, o estar de passagem pela abertura da vida; de passagem pelo não limite da vida no limite do corpo, concomitante à ultrapassagem do limite do corpo no e para o não limite da vida).
Enquanto os discursos religiosos e científicos nascem para fechar, concluir, delimitar, restringir as possibilidades de vida mediante a afirmação de uma lei, de um sistema, de uma moral, a arte sabe a vida não na medida em que a fundamenta ou a determina, mas porque a mantém no seu aberto prodigioso. Se o sagrado é a não medida de todos as medidas, só pode ser sabido quando este imensurável, esta imensidão, se mostra. A arte é a hora e o lugar pró-fano por excelência, mas porque justamente diz o imenso (o sagrado) da vida na e como existência, possessão, ou seja, deixa o não dito e não dizível do silêncio se dizer, ganhar mundo, diferenças.
Lembrar que vida é possibilidade significa lembrar que os sistemas são rompíveis e nunca irreversíveis; que há caos em todo cosmo e, portanto, abertura em todas as relações para o novo: um gesto tão poético quanto político. A pólis, que é a cidade como o lugar consumador possibilidades de vivência e convivência, permanece por isso sempre em questão no gesto do poeta. Nisso, política não tem a ver circunstancialmente com político-partidarismo: esquerda, direita, centro... Política é a condição humana de ser-no-mundo, lançada sempre na pergunta pelo sentido do agir, pelo ético, pelo ethos (morada). O lançado na encruzilhada e – por que não dizer – no diabo, no demônio, no satã e outros nomes que originariamente não dizem respeito ao mal. Os gregos nomearam poíesisa essência do agir e, a um só tempo compreenderam nela não só a sophía (a sabedoria), mas a procura e encontro com o ethos, com o ético (nada ainda confundido com a práxisde alguma moral). O problema é que a tradição metafísica pressupôs – e assim ficou difundido – que, no agir, a essência é um fundamento, uma substância original, um sujeito ditador de leis, seja divino, seja humano, quando o humano tomado pelo sem fundo da vida – pelo sagrado, pelo daimon– diria arcaica e divinamente o próprio demônio (daemoneon).
Chamando-nos ao terreiro de cada dia e de todo lugar, aqueles que incorporam nos cultos, nos transpõem para o aberto, de modo que o atravessemos. Eis uma travessia em que o corpo ordinário se põe em sintonia e sincronia com o extra-ordinário fazer-se de tudo. Aí, religião não remeterá mais a nenhuma religação do corpo a um distante Deus que o redima, mas à religação do corpo à sua força de proveniência, ao seu daemoneon, que nele e por ele vigora. À retomada, pois, do seu movimento de tornar-se, que é quando a vida se transporta para si mesma, instaurando um nível radical de diálogo consigo.
A vida não está em diálogo radical consigo mesma quando – tentando a todo custo impor o verdadeiro Deus – matam-se os homens uns aos outros, conforme os fundamentalismos religiosos persistentes no século XXI, em escala mundial. Deus, como sujeito, não está morto. Mas, diferentemente do que ocorreu no passado, sua sobrevivência e exaltação não significam o ocaso dos egos, pois o homem, como sujeito, também está vivo. Não se trocando um fundamento por outro, mas os permitindo coexistir e até se confundir, assistimos atualmente no Brasil, por exemplo, a uma preocupante tentativa de justaposição entre lei divina e lei dos homens. O Estado – em tese, laico – tem absorvido numerosos representantes de Igrejas dispostas a inscrever na Constituição seus irredutíveis juízos bíblicos, de maneira que a moral religiosa tome o Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), cerceando o agir do humano. O critério político-religioso não é aí o político-poético. Não é o desabrochar de cada um segundo o que lhe for próprio, segundo a sua diferença. Não é o deixar-ser-humano na mulher, no negro, no homossexual. No cristão, no candomblecista. Sobretudo, não é deixar que cada um seja a diferença enquanto um não ajuizável, um não predicável, um não classificável. Porque a concretude de cada um resta sempre como um acontecimento por vir, inacabado e intransferível, à revelia dos juízos e ideias que venham a acomodar o diferente, tornando-o paradoxalmente – na medida da generalização, da síntese – um indiferenciado.
É por isso que necessitei deste livro; para viver nele a diferença, o meu presente, a minha tese fora das proposições. Meu diálogo com a questão do sagrado antecede e ultrapassa qualquer prova de múltipla escolha, em que eu teria de ser: a) católico; b) protestante; c) espírita-kardecista; d) umbandista; c) candomblecista; d) ateu; e) agnóstico etc. Sou nenhuma das respostas acima porque ninguém deve caber em genéricas representações ou predicados, para coincidir com o seu próprio. Daí, esta “prova discursiva” – o livro – para evitar as “provas objetivas”.
Não estão meramente misturadas e mim representações de doutrinas distintas, acatando ao mesmo tempo dogmas católicos e candomblecistas, por exemplo. Tendemos a pensar os mitos a partir dos ritos; o divino a partir dos cultos e dos sistemas religiosos. Mas não há rito sem o mito; não há o culto sem o oculto, o sistema religioso sem a questão. Meu diálogo é com o mito, com divino posto como questão e resistindo, portanto, a qualquer dogma. Considerar o orixá como questão é bem diferente de acatar o juízo de orixá que a Umbanda e o Candomblé cometeram. Escutar Jesus como questão não significa concordar com as interpretações bíblicas que culminaram no Cristianismo. Os sistemas religiosos tendem a matar o sagrado – o que significa: também não proponho nenhuma nova sistemática. A minha tese não se quer modelo, mais uma teoria ou seita, revolucionária, a que os outros devam aderir. Ela é tão-só o meu rito, próprio; a minha liturgia, a minha comunhão, a minha diferença nascente e concrescente no diálogo com o me arrebata, me fascina, me vivifica. O arrebatador, o fascinante das questões é a sua poesia: meu livro constitui enfim um rito poético, onde o que se cultua é o pensar enquanto agradecimento. É a gratidão do pensamento.
A ânsia do julgamento, do diagnóstico é tão dominante, que não se restringe ao âmbito religioso. No meio científico, também tentarão classificar meu livro em algum gênero. Trata-se mesmo de escrever e escrever-me a partir de um gênero, de um genérico, de um modelo? Se subverto as normas acadêmicas, bradarão que sou pós-moderno ou vanguarda... Meu foco é, para além do que nego, um afirmar do arcaico, não na nostalgia de um momento anterior da linha do tempo, porque estou pensando fora da temporalidade linear, do Chronos. Retomo um tempo que os gregos chamariam Aion e, nesta dimensão, o arcaico, a arché, o princípio, diz respeito não a um passado localizável, mas ao presentear imponderável do presente: ao aqui-agora em seu movimento de ir e vir, à instância ou pré-instância em que o instante é. Então, se há alguma revolução nisso tudo, reside no tentar revolver o sentido do ser, subvertendo, sim, modernidades, mas também pós-modernidades. Resultará no contemporâneo, mas não como um indicativo historiográfico ou estético, porque me interessa, afinal, tornar-me tão-só contemporâneo de mim mesmo. Se alguém se dispuser a tomar distância de seu espaço-tempo secular para alcançar e manifestar a sua espácio-temporalidade própria, fazendo-se contemporâneo de si, terá já realizado a revolução que interessa.
* * *
Igor Fagundes é poeta, ator, jornalista, ensaísta e professor. Doutor em Poética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor de Filosofia e Estética nos cursos de Graduação em Dança da UFRJ. Escreveu crítica para o Jornal do Brasil, Rascunho, Panorama da Palavra e em periódicos de arte, filosofia e literatura. Foi colaborador da Academia Brasileira de Letras. Publicou em poesiaTransversais (Prêmio Estudantes do Brasil, 2000), Sete mil tijolos e uma parede inacabada (2004), por uma gênese do horizonte (Prêmio Literário Livraria Asabeça, 2006) ezero ponto zero (2010). No gênero ensaio, publicou Os poetas estão vivos – pensamento poético e poesia brasileira no século XXI (Prêmio Literário Cidade de Manaus, 2008 – Melhor Livro de Ensaio de Literatura), 33 motivos para um crítico amar a poesia hoje (2011) e permanecer silêncio – Manuel Antônio de Castro e o humano como obra (2011). É organizador de outros quatro livros e coautor de mais de 30. Possui cerca de 60 premiações em concursos literários. Membro do PEN Clube do Brasil. No ano 2016, publica Poética na incorporação – Maria Bethânia, José Inácio Vieira de Melo e o Ocidente na encruzilhada de Exu.